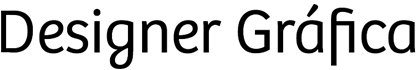Adriana Valadares
15. Março. 1970
Rio de Janeiro RJ
Entrevista realizada em março/2017.
Revisada em maio/2018.
Aluna da primeira turma do curso de bacharelado em desenho industrial na UFBA, primeira a se formar, Adriana desencantou-se, há anos, do mercado profissional do design e decidiu dedicar-se à academia. Desde então, segue aliando seus estudos a temáticas relacionadas à tipografia, o que a encanta, e desenvolvendo projetos de fontes experimentais.
Doutoranda pela Universidade Federal da Bahia, vive uma vida múltipla e divide o seu tempo entre o trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho, a família de três filhos e a sua tese, na qual investiga a não materialidade do design aplicada à tipografia, e questiona até que ponto um tipo digital, por exemplo, é ou deixa de ser material e tangível, a que demanda ele atende e como, quando impresso, se torna algo palpável. Quem dita essas regras e como isso vem se transformando? São perguntas sobre as quais reflete.
Você acha que o fato de você ser mulher interfere nos seus projetos ou nos seus interesses acadêmicos?
Interfere, sim. Provavelmente, se eu tivesse permanecido no mercado de trabalho, se eu não tivesse esse sentimento de estar sempre sendo violentada, por ser mulher… A década de 90 foi uma época muito louca. A gente tinha abertura para muitas coisas em termos políticos e econômicos, mas em termos de avanços sociais, ainda se tateava. Era muito complicado. Trabalhar como mulher, autônoma, naquele período era muito difícil, ainda mais sendo “mãe solteira”, com dois filhos pequenos e divorciada. Essas coisas chegavam antes de mim, era bem estranho. As pessoas sabiam de mim antes de eu chegar para uma reunião.
Eu ter saído do mercado de trabalho direcionou inclusive qual seria minha pesquisa, tanto no mestrado, como no doutorado. Eu fui migrado para a tipografia, porque com tipografia, por exemplo, você não precisa lidar com o cliente. Pelo menos com o tipo de tipografia que eu comecei a trabalhar, que era a experimental, que não era para projeto nenhum. Então acabou juntando essa vontade própria de trabalhar com algo que eu tinha desconhecimento na época da graduação, com a vontade de não lidar com o cliente e eu vi a possibilidade de desenvolver algo sem ter que ficar sendo assediada moralmente.
Por que tipo de situações desconfortáveis você já passou por conta de ser uma mulher? Tanto na academia, quanto com clientes, no mercado?
Na academia eu senti menos, porque, especificamente na UFBA, nós temos mulheres que dão aula em design e as turmas são, se não completamente mistas, de maioria feminina. Então eu nunca me senti assim na academia, ou pelo menos não me lembro de nada que tenha me afetado enquanto designer mulher. Mas, no mercado, várias vezes.
Eu tinha uma colega de trabalho, a Ana Carolina, e a gente começou a fazer alguns trabalhos juntas e ouvimos coisas de levantar da mesa. Uma vez, fomos num café, para conversar com três rapazes, jovens, que estavam abrindo uma empresa de lavar carro, e a conversa deles era tipo “Vocês são tão bonitinhas”; e a gente dizia “Mas estamos falando de design”. Daí eles perguntavam se a gente não sabia ouvir um elogio, então a gente argumentava: “Mas um elogio aqui nessa situação seria você olhar o portfólio e gostar de alguma coisa”. O cara começou a perguntar se nós éramos namoradas e a conversa foi ficando pesada a ponto de a gente levantar da mesa e dizer “olha, desculpa, mas a gente veio aqui para outro fim. Se vocês quiserem conversar sobre a marca de vocês, podem nos procurar de novo”. “O que é isso?! Precisa de uma grosseira dessas?” foi isso que a gente ouviu como resposta.
A gente foi embora escutando os três dizerem que nós não éramos profissionais e a última vozinha de um deles, que eu ouvi, foi: “É isso que dá chamar mulher pra trabalhar”. Entende? Eu saí e chorei. Na frente deles não, lógico, mas eu saí e chorei. Fiquei muito mal.
Esse foi muito forte, mas aconteceram muitos outros assim: “Vocês conseguem cumprir prazo? Porque mulher tem essa coisa, né? Um dia tem TPM, outro dia o filho… Aí o prazo não é cumprido…” “Engraçado, porque a experiência que a gente tem com fornecedores, com pessoas que a gente conhece, é que as mulheres são as mais pontuais, as que cumprem as metas. Curiosamente, são sempre os homens, que não tem essas desculpas, que descumprem os prazos”. Aí o cara ainda falou assim: “Ih, já vi que esse papo é de feminista”.
Quais são as suas referências? Quem te inspira?
Nossa, tenho várias referências. Eu ainda tenho referências muito fortes por conta dessa questão da década de 90, de buscar uma identidade para o design brasileiro, mas não mais como uma busca, como uma valorização das coisas que são condenadas, ou relegadas em segundo plano, mesmo. Eu gosto muito do artesanato, da escrita na boleia do caminhão, das letras do supermercado…
A Priscila Farias foi a primeira pessoa que eu conheci, aqui no Brasil, fazendo trabalho de tipografia digital. Ela é muito competente, porque ela alia a pesquisa acadêmica, a pesquisa em literatura, com a feitura, tudo de uma forma muito amarrada, e esse é um tipo de trabalho que eu, particularmente, também gosto de fazer. Eu sempre busco primeiro um manancial enorme de dados, de informação, e depois eu vou filtrando, até que chego num ponto em que desenvolvo. Eu acabo guardando um monte de material extra, por causa disso, mas como eu gosto de trabalhar…
Eu fui muito influenciada, também, pelo José Bessa, o Elesbão, da Visorama, porque ele tinha um material incrível, chamado “Design de Bolso” e ele fazia umas experimentações tipográficas em que ele rompia com várias normas. Talvez ele até hoje não saiba o quão original ele seja, porque ele é um cara autodidata. O trabalho dele parecia muito com a tipografia suíça, mas ele não sabia nada de tipografia suíça na época, ou com os trabalhos do movimento futurista e ele também não tinha um conhecimento aprofundado sobre os futuristas, na época. Era tudo fruto da genialidade do trabalho dele, porque ele é isso, ele é um cara muito genial e eu gosto da maneira como ele trabalha, porque ele é influenciado por poesia, por filme, por conversa de bar e, também, por material acadêmico.
Também não posso negar que sou um pouco influenciada pelas escolas mais clássicas. Por exemplo, eu era apaixonada pela Emigre, que era uma revista que para eu comprar era um caos, eu precisava pedir para algum amigo que morasse fora para me enviar e pagar pra eles… É curioso porque a Emigre era do Rudy Vander Lans e da Zuzana Licko e eu conhecia muito mais o material da Licko do que do VanderLans. Eles foram alunos da tipografia suíça, estudaram com os maiores tipógrafos e designers gráficos, que respeitavam o grid e a perfeição da página. Ela rompeu isso em várias experimentações da Emigre, mas, em termos tipográficos, ela tem toda uma métrica de construção. Para mim, uma das fontes mais bonitas contemporâneas é dela, a Filosofia, que é uma releitura da Bodoni. Mas assim, eu me rasgo ao meio por Frutiger, que é aquela tipografia clássica, tradicional, eu acho que ele é um gênio em termos de legibilidade e leiturabilidade, mas como eu tenho uma paixão por caligrafia, é impossível eu não ser completamente apaixonada também pela Gundrun, a mulher do Zapf e pelo próprio Zapf e, por acaso, eu descobri a Gundrun antes do Zapf. Foi só acaso, mesmo, porque o nome dele é falado há muito mais tempo e só agora, há pouco, é que o material dela começou a aparecer.
O que você gostaria de mudar no mundo do design gráfico?
Eu acho que a história do design gráfico é muito bonita, muito rica, se você for pegar dos primeiros sinais escritos até o que a gente tem hoje. É fantástico o que a gente consegue fazer, é quase uma mágica, com 24, 26 e 28 letras, conseguir transliterar toda uma gama de emoções e sentimentos. Você transformar um impresso em algo atrativo, ou, pelo contrário, criar rupturas naquele impresso, como no material do futurismo, por exemplo (eu detesto o futurismo, o movimento, como um todo, eu acho uma ideia horrorosa e vergonhosa, mas o material gráfico deles é incrível). Poesia concreta, também, é algo sensacional. Você brincar com o formato das palavras, das frases e das letras, criar outro tipo de leitura… Então a gente tem uns artifícios de uma poética e eu gosto muito da poética embutida no design gráfico. Gosto da possibilidade de a gente brincar com símbolos, mesmo eu sendo atéia convicta. Eu reconheço a importância dos ícones, dos signos e dos símbolos na vida das pessoas, porque nós somos isso, somos feitos disso e a nossa materialidade depende das ideias que a gente tem e concebe com o metafísico, com aquilo o que a gente não consegue descrever completamente, porque está na esfera do simbólico. O design está exatamente nessa seara, na seara do simbólico. Ele fica trazendo elementos do simbólico para o material e do material para o simbólico, enriquecendo um ao outro e eu acho isso incrível. É o mais próximo de magia que eu conheço. Pra mim design gráfico é fazer bruxaria. E me sinto bruxa por isso.
Mas é claro que preciso voltar à questão do mercado de trabalho. Muitas vezes, não sabendo o que é, e não sabendo se colocar no mercado, você vira um obreiro, uma pessoa que tem que cumprir meta. Eu acho muito injusto a forma como as agências de publicidade tratam os criadores: é pra agora de tarde; é pra daqui a meia hora; é pra ontem. Como você cria algo baseado em tempo? Ou na ausência dele? A gente acaba produzindo mais lixo. A gente vive rodeado de lixo e o lixo visual é terrível. Ele é um dos causadores do stress das grandes cidades, das pessoas não se sentirem pertencentes a elas, de não se sentirem aceitas, não se sentirem parte da sociedade. A preocupação mercadológica, que tem que existir, é claro, porque a gente precisa pagar conta, mas ela não pode ser maior do que a responsabilidade da produção imagética; ela não pode ser maior do que a responsabilidade de alguém que está construindo uma cultura.
Que cultura você está construindo? Você tem consciência do papel que você está tendo? Eu acho que a maioria não se preocupa em ter. Porque está tão envolvido com a preocupação mercadológica, que isso fica em um plano secundário. A gente não pode esquecer que design gráfico é, basicamente, linguagem, maneiras de você manusear, manipular a linguagem. E o que é a linguagem, se não o que há de mais básico na cultura? Eu tenho muito medo disso. E eu mudaria algo nesse aspecto. Colocaria um pouco mais de responsabilidade, de ética, na área. Parece meio metafísico, religioso, ou “ecochato”, mas não é. Eu sinto que um bom projeto atende a demanda, mas, ao mesmo tempo, tem toda uma preocupação com o lixo que vai gerar, com o material que será utilizado, com o conforto que aquilo vai dar, com a expectativa da pessoa que encomendou. Você coloca alí a sua própria noção do que é ser designer, porque um pedaço seu vai lá. Então que pedaço de você está indo para o mercado? Basicamente é isso.